O Brasil não nasceu do gesto suave que a memória oficial tenta vender. Nasceu de uma tesoura histórica que cortou peles, línguas, mitos, famílias e costurou tudo à força. A ferida que inaugura a nação não é metáfora gratuita. É genealogia. É método de povoamento. É tecnologia de poder. A palavra mestiçagem, quando serve à fantasia da harmonia, perfumeia o que no fundo é dor. Quando serve à verdade, revela a engenharia de dominação que transformou corpos em fronteiras e descendências em documentos de um crime coletivo. A partir desse chão duro, proponho uma proclamação prolongada. Negritude e parditude não são opostos em tensão eterna. São duas vozes de um mesmo coro que, quando respiram juntas, dão nome ao Brasil que existe para além do mito. São dois alicerces de uma casa nova que só se ergue quando a história é contada inteira.
.
A negritude, como decisão de dignidade e horizonte de luta, foi quem primeiro ergueu o espelho onde o país se viu sem maquilagem. Ela reuniu o que o mercado, o Estado e a branquitude quiseram separar. Construiu gramáticas de sobrevivência, tornou política a memória, transformou cicatriz em linguagem de futuro. A parditude, por sua vez, nomeia a zona onde a violência se disfarça de ambiguidade. É o lugar da oscilação disciplinada pelo olhar alheio. Um dia quase branco, no outro quase negro. Nunca inteiro. É o terreno preferido da manipulação. O ponto em que os privilégios se reproduzem sob a capa da confusão. Ao receber nome, a parditude interrompe o truque. Ao dizer eu existo, ela recusa o papel de massa neutra. Ao declarar-se, devolve à luta uma dimensão que sempre esteve ali, porém invisibilizada. Negritude e parditude, quando se chamam pelo nome, restituem ao país o mapa de si mesmo.
.
É preciso insistir, com todas as letras: a mestiçagem brasileira não foi fruto de encontros livres, mas de estupros sistemáticos transformados em política demográfica. O porão do navio funcionou como ventre compulsório. A casa grande foi também um quartel reprodutivo. As frentes de colonização operaram como laboratórios de desagregação de laços indígenas, com aldeias inteiras desmontadas para que fazendas prosperassem. O estupro não foi desvio moral, foi método de Estado, foi norma econômica, foi rotina de um regime que precisava multiplicar a mão de obra e dissolver resistências. Quebrou-se o parentesco para quebrar a defesa. Proibiram-se línguas para calar deuses. Interditaram-se rituais para secar a memória. O que se chama mistura, neste território, nasce de uma estratégia calculada de destruição de comunidades e de reconfiguração violenta dos destinos. O útero foi reduzido a engrenagem. A infância, a mercadoria. O afeto, um luxo impossível.
Essa tríade de violências — contra as mulheres pretas, contra as mulheres indígenas, contra as mulheres brancas pobres — desenhou o DNA do país. As pretas sequestradas foram transformadas em matriz compulsória. As indígenas foram capturadas para romper a espinha dorsal de suas nações. As brancas pobres, empurradas para o ultramar como peça de reposição de uma ordem patriarcal, foram tensas nos arames da dependência sexual. Esse tripé sustentou a “política de povoamento” que vestiu de naturalidade aquilo que, de fato, foi engenharia de estupro. Em cada parto forçado, uma linha da memória foi cortada. Em cada filho sem registro do pai, uma prova da dominação foi arquivada no corpo. Em cada silêncio herdado, uma aldeia desaparecida voltou a doer. Chamar isso de mestiçagem sem adjetivos é cometer um segundo crime contra a memória.
.
A ciência genética, com seus números frios, confirma o que os corpos já sabiam. Somos mistura. Mas percentual não é projeto. Porcentagem não é política. O exame revela o mapa dos encontros forçados, porém não oferece bússola. A bússola se chama autodeclaração: consciência e compromisso. Declaro-me negro porque recuso o lugar do quase. Porque faço da minha história abrigo de um povo inteiro. Porque sei que a categoria pardo, quando deixa de ser gaveta do Estado e se converte em parditude, ganha espinha dorsal, memória e rosto. E quando esse rosto anda com a negritude, o que escuto é um coro afinado que exige reparação, desautoriza o mito e inaugura novas linguagens para velhas feridas.
.
Para entender o alcance dessa política de estupro, é preciso olhar também para suas camadas complementares. Onde a violência sexual desmontou vínculos, a violação jurídica consolidou o desmonte. Leis de terras expulsaram povos originários de seus territórios. Códigos criminizaram religiões afro-brasileiras e sabedorias indígenas. Regulamentos policiais redesenharam cidades para empurrar pardos e pretos às periferias. Mais tarde, políticas de imigração e ideologias do branqueamento tentaram “corrigir” a demografia, apostando que o tempo apagaria a cor. Apagar o fenótipo e, com ele, os rastros do crime fundador. Essa aritmética social, vendida como modernização, foi mais um capítulo da mesma estratégia: destruir laços comunitários e identidades políticas para dissolver resistências. A mestiçagem, nesse script, seria o verniz final. O Brasil cordial como capa. A hierarquia como miolo.
De todas as estratégias da branquitude, a mais eficaz foi mascarar a violência com a estética da cordialidade. Exaltar a cor morena no anúncio publicitário enquanto nega ao pardo e ao preto o direito a um bairro, a um emprego, a uma vida sem medo. Mostrar exceções como se fossem regra. Celebrar a mistura como se bastasse citar sorrisos, tambores e praias. Essa operação não nos serve. A luta antirracista precisa declarar que o país não será mais governado pela ambiguidade que beneficia poucos e humilha muitos. A parditude, quando se afirma, desmonta o truque. A negritude, quando convoca, oferece direção. O encontro das duas é mais que aliança tática. É o desenho do próprio país em busca de si.
.
Há quem tema que nomear a parditude fragmente o campo negro. O receio é compreensível, mas não se sustenta frente à evidência. A fragmentação verdadeira nasce da recusa de olhar a complexidade de frente. O que rompe não é a palavra nova. O que rompe é o silêncio antigo. Quando a parditude entra em cena como memória insurgente, ela não retira da negritude sua centralidade política. Ela retira da branquitude seu álibi predileto. Impede que a mestiçagem continue servindo de desculpa para negar o racismo. Amplia o terreno da solidariedade com precisão, não com dispersão. Lembra que a violência teve gradações, mas a dignidade é indivisível. E diz, com toda a força: se o estupro foi política, a reparação precisa ser política também.
.
Penso no corpo pardo como arquivo que resiste ao descarte. Ele carrega assinaturas de mundos que se cruzaram sob o peso da humilhação e, ainda assim, ousaram inventar cultura. Do samba à capoeira, do candomblé à culinária, do vocabulário às gírias, o país fez da dor matéria de criação. Não romantizo o processo. Reconheço a coragem. O que foi produzido não absolve a origem, mas prova que as vítimas são autoras. Esta é a ética da nossa estética. A parditude, ao dizer seu nome, reintegra o direito de autoria a quem sempre foi tratado como personificação da dúvida. A negritude, ao acolher e convocar, transforma autoria em projeto coletivo. A criação é fruto da resistência, não da conciliação. A festa que existe é promessa de um encontro futuro regulado pela justiça, não certificado de uma harmonia passada.
.
É possível, e é urgente, transformar as comissões que medem pele em espaços que escutem histórias. Não para abolir critérios, mas para compreender que fenótipo é leitura situada, instável, regional, atravessada por preconceitos. O que legitima a identidade não é a régua de um outro, e sim o lastro da vivência e a escolha responsável de se vincular a uma história de luta. Autodeclaração não é capricho. É compromisso com uma genealogia política. É renúncia à comodidade de passar ileso pela vida. É recusar as migalhas da quase brancura para disputar a plenitude de um povo que quer futuro. Se o estupro foi política de povoamento, a autodeclaração é política de reunificação: reata laços rompidos, recompõe pertences, devolve nomes a quem foi reduzido a cifras.
Negritude e parditude, quando se reconhecem como complementares estratégicas, reorganizam o mapa da esperança. A primeira oferece a tradição de combate que desautoriza o mito e reivindica reparação. A segunda escancara o dispositivo de ambiguidade que mantém privilégios funcionando mesmo sem leis explícitas de segregação. Juntas, recusam a narrativa do encontro melodioso que nunca aconteceu. Juntas, apresentam um pacto novo: nem silêncio, nem ressentimento, mas coragem. Coragem de nomear a origem e reorganizar o destino. Coragem de dizer que justiça não é vingança, é arranjo de mundo em que a vida de todos valha igualmente a pena. Coragem de afirmar que o Estado que fabricou a ferida deve financiar a cura, com terra, escola, renda, saúde, memória e políticas que costurem de volta as tramas que a violência esgarçou.
.
Há uma imagem do Brasil que nos interessa. Não a do cartão-postal, mas a do espelho sem maquiagem. Um país que assume a cicatriz como parte do rosto e a transforma em sinal de compromisso. Um país que aceita que a sua grandeza cultural não absolve a violência que a gerou, e por isso investe em reparações capazes de reequilibrar a mesa. Um país que aprende a pronunciar parditude sem receio, que aprende a pronunciar negritude sem concessões, que aprende a dizer nós sem segredos. O nome desse país começa com a palavra justiça. O sobrenome é futuro. E esse futuro não se inaugurará por decreto estético, e sim pelo desmonte paciente das engrenagens que fizeram da violação um método de povoamento e da confusão identitária uma técnica de governo.
.
Proclamo, portanto, sem hesitação: negritude e parditude são não apenas complementares estratégicas. São a imagem do Brasil quando decide ser honesto consigo mesmo. A negritude oferece o eixo ético e a direção política. A parditude oferece a chave de leitura da ambiguidade que nos capturou por séculos. Unidas, convertem a ferida em linguagem e a linguagem em ação. Unidas, atravessam a noite do mito e caminham em direção a um dia em que nenhum corpo precisará ser quase. Nesse dia, o documento não será sentença. A cor não será hierarquia. A história não será álibi. Nesse dia, a mistura poderá finalmente chamar-se encontro porque terá sido precedida por justiça. E quando dissermos encontro, ele significará comunidades reconstituídas, parentescos reafirmados, memórias devolvidas ao seu povo.
Até lá, seguimos. Com memória em punho, com dignidade no centro, com a palavra viva como ferramenta pública. Seguimos nomeando o que nos negaram, reconstruindo o que rasgaram, convocando o que dispersaram. Seguimos repetindo que a ferida fala e que a cicatriz não pede licença para existir. Seguimos fazendo da autodeclaração um pacto de responsabilidade e pertencimento. Seguimos afirmando que o passado só será passado quando o presente for outro. E que esse outro só nascerá onde o país admitir, sem rodeios, que sua mestiçagem foi produzida por uma política de estupro e destruição de laços, e que cabe agora uma política de reparo e reunificação.
.
Que se escreva nas praças, nas escolas, nas leis e nos afetos: a mestiçagem não é desculpa, é prova. Prova de que o crime fundador não venceu. Prova de que a memória, quando reconhece a dor, encontra coragem para inventar futuro. Prova de que a negritude e a parditude, juntas, são a gramática desse futuro. Uma gramática feita de substantivos como reparação, moradia, terra, escola, salário digno, saúde coletiva, reconhecimento. E de verbos como escutar, reconhecer, redistribuir, proteger, reparar, sonhar, recompor, reatar.
.
O Brasil que proclamamos nasce quando a verdade substitui o mito. Quando a solidariedade substitui a ambiguidade. Quando a justiça substitui a cordialidade de fachada. Nesse instante, a ferida que fala encontra a sociedade que escuta. A cicatriz que denuncia encontra a política que repara. A memória que resiste encontra a dignidade que organiza. E o país, enfim, aprende a dizer seu nome inteiro. Negritude e parditude. Duas vozes. Um mesmo corpo. Um Brasil possível. Um Brasil necessário. Um Brasil que, ao se olhar no espelho, reconhece sua história e decide, com todas as letras, não repetir a violência que o pariu. Porque a verdadeira conciliação só nasce quando o estupro cessa, quando o vínculo retorna, quando a comunidade é restituída, quando o futuro se torna, finalmente, um encontro escolhido.
———————-
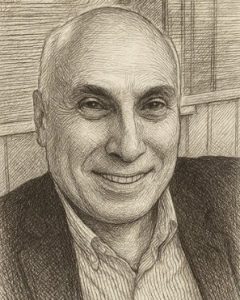
*Paulo Baía é sociólogo, cientista político e professor aposentado do Departamento de Sociologia da UFRJ. Suburbano de Marechal Hermes, é torcedor apaixonado do Flamengo e portelense de coração. Com formação em Ciências Sociais, mestrado em Ciência Política e doutorado em Ciências Sociais, construiu uma trajetória acadêmica marcada pelo estudo da violência urbana, do poder local, das exclusões sociais e das sociabilidades periféricas. Atuou como gestor público nos governos estadual e federal, e atualmente é pesquisador associado ao LAPPCOM e ao NECVU, ambos da UFRJ. É analista político e social, colunista do site Agenda do Poder e de diversos meios de comunicação, onde comenta a conjuntura brasileira com olhar crítico e comprometido com os direitos humanos, a democracia e os saberes populares. Leitor compulsivo e cronista do cotidiano, escreve com frequência sobre as experiências urbanas e humanas que marcam a vida nas cidades.
———————
** Leia outros artigos e crônicas do autor publicados na revista. clique aqui
.
Leia também:
- Paulo Baía – é tempo de alteridades radicalizadas
- Paulo Baía – pensamento social e político de José de Souza Marques



