A vingança é o instinto mais antigo da humanidade. Antes da lei, antes da religião, antes do Estado, ela já existia. É o primeiro impulso de quem sofre, o reflexo visceral de quem foi ferido. Nenhuma civilização a extinguiu, apenas a disfarçou com outros nomes: justiça, segurança, reparação. A vingança é o subterrâneo moral de todas as sociedades, e no Brasil, ela é a corrente invisível que move o tempo e o sangue.
.
O Rio de Janeiro é o altar onde essa força primitiva se faz visível. A cidade, partida em si mesma, vive uma guerra silenciosa entre o desejo de paz e o instinto de revanche. Nas favelas, a vingança é uma ferida transmitida por gerações, lembrança viva dos mortos que não tiveram voz, dos filhos que não voltaram, dos amigos que se foram sem explicação. Nas forças policiais, ela é o juramento não escrito que une as corporações, o pacto de fidelidade ao sangue derramado. De um lado e do outro, a vingança é a ética dos que perderam e não foram ouvidos.
.
Há no ar do Rio uma tensão espiritual que não se dissolve. Cada operação policial é o eco de um passado remoto, um acerto de contas que começou há mais de meio século e nunca terminou. Ainda hoje, quando um policial morre, os quartéis lembram os mortos da era de Carlos Lacerda, e a vingança percorre os corredores como um credo. Da mesma forma, quando um jovem cai no morro, a comunidade inteira sente a dor antiga das remoções forçadas, das casas destruídas, das famílias desfeitas pelo poder público. A vingança é o modo como o Rio se recorda.
.
O que se vive nas favelas e nos quartéis não é um conflito de agora. É o resultado acumulado de uma história de punições e ressentimentos, de governos que se vingam do povo e de povos que se vingam da ausência de governo. O Rio aprendeu a respirar sob o signo do medo. O medo é o outro nome da vingança, o modo de mantê-la viva sem dizê-la.
As forças de segurança acreditam que fazem justiça. Os moradores das favelas acreditam que se defendem. Mas o que se repete, como um destino, é o gesto da retaliação. Cada morte exige outra, cada humilhação pede resposta, cada dor busca compensação. A vingança, nesse contexto, não é crime nem virtude: é linguagem. A cidade fala por meio dela. O Estado e o morro se compreendem nesse idioma trágico.
.
Desde os tempos coloniais, o poder brasileiro se estrutura na ideia de que a autoridade só se afirma pela punição. A escravidão foi a vingança institucionalizada contra o corpo. A ditadura foi a vingança institucionalizada contra a palavra. As operações policiais são a vingança institucionalizada contra a existência. A lógica é a mesma: castigar para provar força, punir para afirmar hierarquia, ferir para restabelecer a ordem.
.
Mas há uma diferença entre o castigo e a vingança. O castigo é racional, frio, impessoal. A vingança é ardente, íntima, emocional. Ela tem memória, rosto e nome. O Estado do Rio de Janeiro mistura as duas dimensões. Age como instituição, mas sente como indivíduo. Cada operação é ao mesmo tempo política e emocional, burocrática e pessoal, planejada e impulsiva. É uma estrutura racional comandada por paixões.
.
Essa fusão de razão e ressentimento transforma o Estado em personagem trágico. O governo acredita que age em nome da justiça, mas o que faz é perpetuar o círculo da dor. A cada nova morte, acredita-se que algo será pacificado. Mas nada se pacifica, tudo se acumula. A vingança não resolve, conserva. É o fogo que mantém acesa a chama do ódio e impede a noite de cair.
.
O governador Cláudio Castro encarna essa contradição. Fala em segurança pública, mas o que oferece é segurança vingativa. Governar pela dor, administrar pela retaliação, legitimar o sofrimento como política de Estado. A moral do castigo veste a roupa da autoridade. E o povo, cansado de sofrer, aceita o castigo como se fosse remédio.
No entanto, o remédio se torna veneno. O Estado que vinga o crime se torna criminoso. A sociedade que aplaude a morte torna-se cúmplice. O povo que celebra a punição torna-se refém da própria raiva. A vingança é uma paixão que não liberta, aprisiona. E o Rio, com sua beleza ferida, vive aprisionado nesse espelho moral.
.
A cidade se habituou a ver o sangue como parte da paisagem. A notícia da morte chega com o café, o enterro se mistura à rotina, o medo se transforma em normalidade. A vingança, nesse ponto, já venceu. Ela se infiltrou no cotidiano. Não é mais exceção, é regra. O povo não se espanta, o Estado não se envergonha, e o mundo assiste.
.
Mas o que se passa no Rio não é apenas tragédia local. É o espelho do Brasil. O país inteiro vive sob a lógica do revide. O Congresso vinga-se do Supremo. O Supremo vinga-se do Executivo. A elite vinga-se do povo. O povo vinga-se na urna. A política é a institucionalização da vingança. Cada governo é o desforço do anterior. Cada eleição é uma revanche. O país vive de repetições emocionais.
.
E no entanto, por baixo dessa superfície, pulsa algo mais profundo. A vingança é também o sinal de que o país ainda sente, ainda reage, ainda não foi inteiramente anestesiado. A vingança é o último gesto de quem ainda acredita que existe justiça, mesmo que deformada. O problema não é o sentimento, mas sua forma. A vingança é a emoção certa no regime errado.

No Complexo do Alemão e da Penha, a última operação policial foi mais que um confronto. Foi um ato litúrgico, um rito de sacrifício. O Estado entrou para vingar seus mortos, o povo reagiu para vingar os seus. Ambos creram agir com razão. Ambos saíram feridos. O saldo não é político, é espiritual. O Rio de Janeiro é hoje o campo simbólico onde o Brasil se confessa e se condena ao mesmo tempo.
.
Cada morte é um espelho, cada fuzilamento é uma lembrança, cada grito é uma oração. O morro reza com o corpo, o Estado reza com a bala. A vingança é a religião dos que perderam a fé na justiça.
A vingança é o espelho moral do Brasil. Ela reflete o que o país não consegue dizer de si mesmo. Onde falta justiça, ela se ergue como substituta. Onde falta verdade, ela se impõe como narrativa. Onde falta amor, ela se disfarça de coragem. O Estado e o povo são irmãos gêmeos nessa moral invertida, cada um projetando no outro o próprio ressentimento. O Estado acredita que o povo é bárbaro e precisa ser domado. O povo acredita que o Estado é tirano e precisa ser desafiado. Ambos se olham e se reconhecem, e nesse reconhecimento mútuo o ciclo da violência se perpetua.
.
O poder brasileiro é, em essência, punitivo. Ele não administra o bem-estar, administra o medo. O governante não é eleito por sua capacidade de criar, mas por sua promessa de castigar. O discurso político é sempre uma ameaça. Promete-se prender, punir, eliminar, corrigir, conter. A vingança é o coração simbólico da retórica nacional. O povo não exige justiça, exige revanche. Não pede igualdade, pede punição. Não clama por direitos, clama por ordem.
.
Essa moral punitiva é também religiosa. O Brasil é uma nação mística, e seu Deus é um juiz. A vingança é o elo entre o poder terreno e o divino. A justiça se confunde com o castigo, e o castigo com a purificação. A teologia do sofrimento impregna cada gesto político. O pobre que sofre é exaltado. O rico que é punido é celebrado. O inimigo que é ferido é transformado em espetáculo moral. A sociedade vive de penitências, e o Estado é o seu inquisidor.
.
Nas favelas, essa espiritualidade da dor assume outra forma. O sofrimento não é expiação, é prova de resistência. A vingança, aqui, é uma forma de dignidade. Cada vida perdida é lembrada, cada corpo caído é transformado em mito. O morro vinga seus mortos com música, com fé, com dança, com a teimosia de existir. A alegria é o disfarce da vingança. É o modo que o povo encontrou de sobreviver ao castigo.
A polícia, por sua vez, vive a vingança como vocação. O policial é o sacerdote de uma religião sem deuses, mas com rituais precisos. A cada morte de um colega, renova-se o juramento de eliminar o inimigo. A corporação é o templo dessa fé. Os batalhões são igrejas do medo. O Estado é o altar. A vingança é o sacramento. A farda é a batina da violência legitimada.
.
Essa simetria trágica faz do Rio de Janeiro o laboratório do inconsciente brasileiro. Cada operação policial é um espelho do próprio país. O morro é a consciência culpada da nação, o lugar onde o Brasil vê a si mesmo sem maquiagem. Lá estão condensadas as culpas coloniais, as desigualdades raciais, as falências políticas e as ilusões religiosas. O Rio é o teatro onde o país encena a peça eterna de sua vingança.
.
Mas o inconsciente não esquece, apenas repete. Por isso, as guerras urbanas se renovam, os discursos se reciclam, e as feridas se abrem de novo. O Estado continua acreditando que a violência é remédio, e o povo continua acreditando que resistir é sobreviver. O que se chama de guerra é, na verdade, um ritual de memória. Cada morte é um lembrete. Cada luto é um arquivo.
A vingança é também um afeto coletivo. É o vínculo invisível que une os que foram feridos. É a língua secreta dos humilhados. É o código moral dos que não têm poder. Em vez de se calar, o povo vinga-se simbolicamente, com ironia, com zombaria, com riso. O humor é a vingança dos fracos. A festa é a vingança dos pobres. O carnaval é o ato mais sofisticado de subversão do país. No riso, o povo inverte a hierarquia.
.
Mas o poder também sabe rir. Rir é uma forma de vingança sutil. O riso das elites é o riso do desprezo, o riso que confirma a distância. O sarcasmo político, o deboche dos poderosos, é a vingança de quem acredita estar acima da dor. O país inteiro se comunica em risos vingativos. A alegria nacional é uma forma disfarçada de ressentimento.
.
A vingança é o sentimento mais democrático do Brasil. Todos a conhecem, todos a praticam, todos a justificam. É o ponto em que o país se unifica. Direita e esquerda, ricos e pobres, militares e civis, todos compartilham o desejo de retribuir o mal. Essa unanimidade é o verdadeiro cimento da nação. O Brasil é uma comunidade de vingadores.
.
E, no entanto, dentro dessa unanimidade lateja a tragédia. A vingança não tem fim, porque não cura. O país se alimenta de sua própria dor, como Narciso diante da própria imagem. O Brasil olha para suas favelas, para suas polícias, para seus cárceres, e vê neles seu próprio reflexo. Cada ato de vingança reforça o círculo. Cada punição renova o crime. Cada morte justifica outra.
.
O inconsciente nacional é feito de culpa. A escravidão, a ditadura, a desigualdade, a corrupção, tudo isso compõe uma rede de traumas não elaborados. O Brasil é um país em terapia há séculos, mas nunca chega à sessão decisiva. Sempre interrompe a análise antes da catarse. O ódio é o analgésico coletivo. A vingança é o substituto da consciência.
.
Há algo profundamente trágico nesse destino. A vingança, que começou como forma de resistência, se tornou prisão moral. O país acredita que punir é proteger, que ferir é purificar, que sofrer é merecer. Essa crença é o verdadeiro inferno brasileiro. Não o inferno de fogo, mas o inferno de repetições.
E, contudo, há uma beleza subterrânea nisso. A vingança, como toda tragédia, contém a semente da revelação. É no momento mais cruel que a consciência desperta. Quando o país perceber que o castigo não cura, talvez compreenda que o perdão é a única forma de justiça. Mas esse perdão não será religioso, será histórico. Não virá de cima, virá da memória.
.
A vingança se institucionalizou no Brasil. Tornou-se linguagem, método, estética. O poder não fala mais de justiça, fala de correção. Não promete direitos, promete punições. O discurso público é disciplinar. A vingança é o idioma da administração. Está nas palavras, nas leis, nos gestos, nos uniformes. A política é o teatro do castigo, e o Estado é seu diretor.
.
No Rio de Janeiro, essa institucionalização é visível, quase palpável. Os helicópteros sobrevoando as favelas são os anjos vingadores da nova teologia de Estado. As viaturas que sobem os morros são os peregrinos do medo. Os relatórios oficiais, os boletins de ocorrência, as estatísticas frias são os evangelhos da violência legalizada. Cada operação policial é um rito de purificação. Cada morte é uma oferenda.
O poder moderno herdou a lógica colonial. A vingança do Estado é o prolongamento da vingança senhorial. A elite, desde o nascimento do país, não tolera a desobediência. Cada rebelião popular é interpretada como afronta pessoal. O Estado brasileiro tem alma de senhor de engenho. Precisa castigar para se afirmar. Precisa humilhar para governar. Precisa ver sangue para acreditar que manda.
.
E o povo, que aprendeu a sobreviver sob esse regime, também aprendeu a revidar. A vingança popular é difusa, subterrânea, simbólica. Ela se manifesta em pequenas desobediências, em ironias, em festas, em boicotes silenciosos. O brasileiro é mestre na vingança disfarçada. Sorri e espera. Cumpre a ordem e sabota. Reza e duvida. A vingança, aqui, é paciência armada.
.
A institucionalização da vingança cria um tipo específico de moralidade. O país passa a medir o valor das pessoas por sua capacidade de punir ou resistir ao castigo. O herói é o que não se dobra. O vilão é o que cede. A coragem é confundida com dureza, e a compaixão é vista como fraqueza. O país admira quem revida, despreza quem perdoa.
.
A vingança, assim, torna-se virtude nacional. O Estado se orgulha de sua brutalidade. A polícia se orgulha de sua eficiência. O povo se orgulha de sua resistência. Todos acreditam estar fazendo o certo. Todos acreditam que sua dor é mais legítima que a do outro. É uma moral de espelhos quebrados, onde ninguém enxerga o outro inteiro.
.
Essa moral punitiva não é acidental, é estruturante. Ela mantém o país em ordem, mas uma ordem feita de medo. O cidadão cumpre a lei não por respeito, mas por temor. O Estado governa não por legitimidade, mas por ameaça. O poder é mantido pelo medo e reproduzido pela vingança. É um sistema de emoções controladas, uma coreografia da dor.
.
A vingança é também estética. Está nas imagens da televisão, nas manchetes, nas falas políticas, nos filmes e nas novelas. A cultura popular transformou o castigo em espetáculo. O herói vingador é o arquétipo dominante. O justiceiro, o policial incorruptível, o bandido traído, todos são variações do mesmo mito. O Brasil consome a vingança como entretenimento e a reproduz como realidade.
Essa estética molda o imaginário coletivo. As crianças crescem assistindo à vitória do castigo. Aprendem que a lei só funciona quando é violenta. Que o perdão é fraqueza. Que a justiça precisa ter rosto e sangue. A vingança é ensinada como pedagogia nacional. O país educa seus filhos para o ressentimento.
.
O resultado é uma sociedade fatigada, mas incapaz de parar. O Brasil vive uma exaustão moral. Todos estão cansados de sofrer, mas não sabem viver sem a dor. A vingança oferece uma ilusão de controle. O país prefere a violência previsível à paz incerta. Prefere repetir o horror a enfrentar o vazio.
.
No Rio de Janeiro, esse vazio é o que mais assusta. Depois da operação, depois da chacina, depois do enterro, vem o silêncio. E o silêncio é insuportável. O silêncio é o espelho onde o país veria seu próprio rosto. Por isso, o ciclo continua. A vingança é a música que cobre o barulho do nada.
Mas há uma fissura nesse círculo. A memória. A lembrança dos que morreram, o luto das mães, a arte que nasce do sofrimento, tudo isso é resistência à lógica da vingança. É o início da consciência. Cada poema, cada fotografia, cada relato é uma tentativa de dizer: não queremos mais revidar, queremos lembrar. A memória é o primeiro gesto de libertação.
.
O Brasil, porém, ainda teme a memória. O esquecimento é mais confortável. O país prefere a vingança porque ela mantém o passado em chamas, sem precisar compreendê-lo. A lembrança exige responsabilidade. A vingança exige apenas raiva. E a raiva é mais fácil de administrar.
.
Por isso, o país repete sua tragédia. Desde os tempos coloniais até o presente, a vingança é o eixo moral que sustenta o poder. A elite se vinga do povo que ousa ascender. O povo se vinga da elite com seu riso, com sua astúcia, com sua indiferença. A política é a arena onde essas vinganças se encontram e se renovam.
E no centro de tudo, o Rio de Janeiro. A cidade onde o poder e a pobreza se olham todos os dias. A cidade onde o Estado entra armado e o povo responde com silêncio. A cidade que já viu todos os seus deuses morrerem e ainda assim continua rezando. O Rio é a síntese da vingança brasileira. Uma beleza que sangra.
.
Mas talvez a beleza seja também uma forma de vingança. Porque sobreviver, neste país, é um ato estético. O povo do Rio vinga-se existindo. Cada sorriso é uma revolta. Cada festa é um desmentido. Cada vida que continua é uma refutação ao poder que queria o silêncio. A vingança, enfim, pode se tornar arte.
O tempo da vingança é o verdadeiro tempo do Brasil. É o compasso oculto que regula a respiração da história. O país acredita caminhar para o futuro, mas o que faz é repetir. A vingança organiza o tempo como o relógio organiza o silêncio. Cada geração revive a anterior, cada governo refaz o gesto que jurou condenar, cada cidade renasce sobre os escombros da anterior. O país é um palco de repetições, e o Rio é sua cena central.
.
A vingança não se esgota porque o tempo brasileiro não é linear, é ritual. Tudo retorna. O passado não está atrás, está dentro. Ele habita os corpos, as palavras, as instituições. O futuro, quando chega, já vem contaminado pelo que não foi resolvido. Assim, o país vive entre fantasmas. Não são espectros do outro mundo, mas do mesmo. São memórias que se recusam a ser enterradas, dores que exigem ser lembradas.
A história nacional é feita de círculos concêntricos de castigo. Cada revolta é punida, cada punição gera outra revolta. A ditadura de 1964 foi a vingança das forças que perderam em 1945. A violência urbana dos anos 1990 foi a vingança social dos excluídos do milagre econômico. As operações policiais do século XXI são a vingança do Estado contra o medo que ele mesmo criou. Tudo é resposta, nada é origem.
.
O Brasil é uma civilização fundada sobre a negação da morte. E por isso a vingança se torna a maneira de lidar com o inacabado. Como não se enterra o passado, é preciso matá-lo de novo todos os dias. O país convive com o mesmo cadáver há séculos, apenas muda o nome. Hoje se chama segurança pública, ontem se chamava pacificação, antes disso se chamava civilização. O corpo é o mesmo.

O tempo da vingança é moral. É o tempo em que o castigo substitui a reflexão. O país prefere punir a compreender, prefere repetir a mudar. A memória é dolorosa demais, e o castigo é mais simples. A vingança oferece uma sensação de pureza, como se o mal pudesse ser eliminado pelo sofrimento. Mas o sofrimento apenas o renova.
.
A justiça, que deveria interromper o ciclo, se torna cúmplice. O tribunal é o palco da vingança legal. O juiz fala em nome da lei, mas age em nome da moral. A sentença é o novo tipo de suplício. O cárcere é o novo pelourinho. O país modernizou a dor, mas não a superou. A vingança é a forma administrativa da barbárie.
O tempo brasileiro é também um tempo emocional. O país reage por afetos, não por ideias. A vingança é o afeto mais constante, o mais duradouro, o mais transmissível. Passa de pai para filho, de polícia para soldado, de governante para eleitor. É a herança invisível que une as classes, os partidos, as gerações.
Nas periferias, o tempo da vingança é o tempo da espera. Cada morador sabe que um dia a polícia voltará. Cada mãe sabe que um dia chorará de novo. Cada criança aprende cedo a reconhecer o som dos helicópteros. A vingança não é um evento, é uma rotina. A cidade vive em estado de prontidão.
No Estado, o tempo da vingança é o tempo da gestão. A violência é orçada, planejada, justificada. O sofrimento tem protocolo. As mortes são contabilizadas como indicadores de eficiência. A vingança virou técnica. É a racionalidade do medo, a burocracia do castigo.
Essa temporalidade cria uma ética particular: o país não se mede pelo que constrói, mas pelo que destrói. A vingança é o modo de avaliar o poder. O forte é o que castiga, o fraco é o que perdoa. O sucesso é medido pela quantidade de inimigos derrotados. O fracasso é sinônimo de clemência.
O resultado é uma nação que vive cansada e exaltada ao mesmo tempo. O Brasil se vinga todos os dias, mas nunca se sente vingado. A dor se renova mais rápido que o alívio. O país se habituou à repetição da ferida, como quem se reconhece apenas na cicatriz.
Mas há um limite para o eterno retorno. O tempo da vingança, como todo tempo ritual, cansa. As novas gerações já não acreditam na pureza do castigo. Crescem vendo que a violência não resolve, que o ódio não educa, que o sofrimento não redime. A vingança começa a perder sua aura sagrada. A fadiga é o primeiro sinal da mudança.
No entanto, antes que a mudança aconteça, o país ainda precisará atravessar a vertigem. O ciclo não se quebra sem dor. O Rio continuará sangrando. As favelas continuarão chorando. As polícias continuarão marchando. Mas, no fundo, algo se desloca. A consciência desperta lentamente, como quem acorda de um sonho antigo.
O tempo da vingança é também o tempo da possibilidade. Porque quando o país percebe que repete, já está mudando. A percepção é a primeira fissura no mito. O Brasil começa a se ver, e esse ver é o início da libertação.
O que vem depois ainda é incerto, mas talvez seja o tempo da compreensão. Um tempo em que a vingança se transforme em lembrança, o castigo em consciência, a dor em linguagem. Um tempo em que o país possa olhar seu passado sem precisar repeti-lo.
A vingança é a alma secreta do Estado brasileiro. Mais do que uma prática, é um princípio ontológico. O poder no Brasil não se afirma pela criação, mas pela negação. Não se sustenta pela justiça, mas pela capacidade de punir. A autoridade se constrói sobre a dor dos outros. É um poder que não sabe governar sem ferir, não sabe proteger sem humilhar, não sabe existir sem um inimigo.
Essa forma de poder é herança direta da estrutura colonial, em que o domínio era justificado pela pedagogia da punição. O castigo era o modo de ensinar, o sofrimento era o modo de corrigir. A violência era vista como instrumento civilizatório. E essa pedagogia nunca foi abolida, apenas se transformou em burocracia. A escravidão foi juridicamente extinta, mas moralmente mantida. O Estado herdou o papel do feitor.
A vingança, nesse contexto, é o elo que une a autoridade à sua própria legitimidade. O Estado precisa mostrar força para ser obedecido, e força, aqui, significa capacidade de infligir dor. O poder público age como se estivesse sempre em guerra. Contra o crime, contra o tráfico, contra a pobreza, contra a desordem. O inimigo muda de nome, mas o gesto é o mesmo: punir para existir.
Há algo de religioso nesse mecanismo. O Estado brasileiro é teocrático em sua essência simbólica. Ele acredita na purificação pelo sofrimento. O castigo é uma forma de sacramento. A vingança é o ritual que mantém a fé na ordem. O policial, o juiz, o promotor são os sacerdotes desse culto. Cada operação, cada prisão, cada sentença é uma liturgia. O altar é a favela.
A vingança é, portanto, a espiritualidade do poder. Um Estado que não confia na palavra precisa da violência para manter a fé. E um povo que não confia na justiça precisa da vingança para acreditar no destino. Assim se fecha o circuito místico da violência brasileira. O poder e o povo se alimentam da mesma crença, apenas de lados opostos do espelho.
O Estado acredita estar vingando o bem. O povo acredita estar vingando a dignidade. Ambos confundem vingança com redenção. É uma espiritualidade trágica, porque transforma o sofrimento em linguagem moral. O país não sabe amar sem dor, nem perdoar sem humilhação. A bondade é vista como ingenuidade. A compaixão, como fraqueza. O perdão, como traição.
A metafísica da vingança é também uma metafísica da honra. No Brasil, a honra é o substituto da justiça. O indivíduo não busca o justo, busca o reconhecimento. A vingança é o meio de restaurar a imagem ferida. É um gesto estético, uma performance de integridade. No campo simbólico, vingar-se é existir. E o Estado, sendo a soma dos indivíduos, age da mesma forma.
A honra ferida do Estado é o motor das operações policiais. Cada ataque, cada morte de um agente, cada desafio à autoridade desencadeia uma resposta desproporcional. O Estado age como um homem ultrajado. Precisa mostrar que ainda é temido. Precisa reocupar o território da obediência. Essa reação é menos racional do que mítica. É o mito da virilidade política: o poder precisa demonstrar que não é impotente.
A vingança, assim, substitui a justiça e a razão. E por isso ela é metafísica. Ela não obedece à lógica da utilidade, mas à lógica do sentido. O Estado vinga-se não porque precisa, mas porque acredita que precisa. É um ato de fé, não de estratégia. É o retorno ao sagrado através da violência. A lei se torna evangelho, e o crime, o pecado original.
O Brasil vive dentro dessa teologia da força. O policial é o novo missionário, o promotor é o novo confessor, o juiz é o novo sacerdote. Todos ministram o mesmo credo: o mal deve ser eliminado, não compreendido. A dor deve ser administrada, não curada. A vingança é o sacramento da ordem.
Mas essa fé começa a ruir. Porque toda metafísica envelhece quando a realidade se torna mais complexa que o dogma. O Estado já não sabe a quem punir. O crime se mistura ao poder, a polícia se mistura ao tráfico, o tráfico se mistura à política, a política se mistura ao mercado. O inimigo não tem mais rosto. A vingança, sem rosto, perde direção. E quando a vingança perde direção, transforma-se em desespero.
O Brasil vive esse desespero. A violência não tem mais narrativa, apenas rotina. As operações já não prometem purificar, apenas conter. O Estado já não acredita na redenção, apenas na sobrevivência. O povo já não acredita na justiça, apenas na sorte. A vingança, esvaziada de sentido, continua agindo por inércia. É o movimento de um corpo sem alma, uma máquina que mata por hábito.
Nesse ponto, o país toca o trágico. Porque a tragédia não é apenas o sofrimento, é a consciência do sofrimento. O Brasil começa a perceber que sua vingança é contra si mesmo. O Estado e o povo são espelhos quebrados refletindo o mesmo sangue. A metafísica da força se revela como uma forma de suicídio coletivo.
Mas toda tragédia contém um instante de revelação. Quando a vingança perde sua sacralidade, surge o espaço para o pensamento. O silêncio depois da violência é o intervalo da consciência. E é nesse intervalo que o país pode se reinventar.
A vingança é mais antiga que o Estado, mais profunda que a política, mais instintiva que o amor. Ela pertence à estrutura da condição humana. Antes das leis, havia a retribuição. Antes do perdão, havia o acerto de contas. A humanidade aprendeu a falar pela dor, e o primeiro verbo que conjuga é o de revidar. No gesto da vingança, o homem descobre que existe, que pode responder ao mundo, que não é apenas objeto da força, mas sujeito do retorno.
Na escala antropológica, a vingança é o embrião da justiça. Foi o primeiro código moral. O olho por olho não era barbárie, era equilíbrio. A equivalência da dor era o modo de fundar a ordem. Mas o problema da humanidade é que o equilíbrio nunca bastou. O homem não quer apenas compensar, quer exceder. A vingança nasce justa, mas amadurece injusta. Ela cresce como o fogo: começa controlável e termina devorando tudo.
No coração da espécie, a vingança se confunde com a lembrança. O que move o homem a revidar não é a dor do corpo, é a ferida da memória. O animal esquece, o homem recorda. A vingança é o nome ético da lembrança. É a recusa em permitir que o tempo apague o sofrimento. Por isso ela é também uma forma de arte. Toda vingança é narrativa, é um modo de contar a ferida.
As sociedades humanas, desde as mais arcaicas, transformaram a vingança em ritual. O duelo, o sacrifício, o julgamento, o linchamento, todos são formas simbólicas do mesmo gesto. A vingança é a liturgia da ferida. É a tradução do trauma em ação. Quando o homem não consegue chorar, mata. Quando não consegue perdoar, pune. Quando não consegue esquecer, conta.
Na antropologia da violência, a vingança é também linguagem política. É a gramática da honra, o código das comunidades que não têm tribunais. Entre clãs, famílias, grupos e territórios, vingar-se é sobreviver. A honra é a forma de justiça onde a justiça não existe. O ofendido que não revida é apagado da memória coletiva. A vingança garante o lugar no mundo.
Essa lógica não desapareceu com a modernidade. Apenas mudou de roupa. O Estado se apropriou da vingança, vestiu-a de toga e chamou-a de justiça. O castigo foi racionalizado, a punição virou lei. Mas o espírito é o mesmo. O tribunal é o novo campo de batalha. A sentença é o novo duelo. A vingança se transformou em sistema.
Na modernidade, o homem acreditou que podia separar o justo do vingativo. Inventou a razão, o direito, a moral universal. Mas, sob essa superfície, a vingança continuou pulsando. Ela se deslocou do corpo para o discurso, da faca para a palavra, da rua para o parlamento. A política é a vingança sublimada. O debate é o duelo das ideias. A retórica é a nova arma.
O século XXI, com suas guerras morais e tecnológicas, trouxe de volta o rosto primitivo da vingança. As redes sociais são arenas de retribuição simbólica. Cada ofensa exige resposta. Cada ataque pede réplica. O homem contemporâneo, cercado de espelhos digitais, vive em estado permanente de revanche. A sociedade inteira se tornou um tribunal de fúria.
No Brasil, essa dinâmica é especialmente intensa. A vingança se tornou o cimento das identidades. Ser é reagir. O discurso político é um mosaico de ressentimentos. O cidadão não vota por esperança, vota por revanche. A economia do ódio substituiu a economia da solidariedade. O país se organiza emocionalmente em torno do desejo de revidar.
.
Mas a vingança, mesmo quando se disfarça de justiça, conserva sua natureza de espelho. O que ela devolve é sempre o rosto do próprio agressor. O que se chama de inimigo é, na verdade, o reflexo invertido do eu. Por isso a vingança nunca termina. O homem se fere para provar que vive.
.
No plano existencial, a vingança é uma tentativa de interromper o tempo. É o gesto de quem quer corrigir o passado. Mas o passado é incorregível. A vingança é a recusa da finitude. É o sonho de um poder sobre o tempo, sobre a história, sobre o outro. Por isso é tão sedutora e tão destrutiva. Ela promete o impossível: a restauração do que já se perdeu.
.
A filosofia sabe disso. Nietzsche via na vingança o veneno da moral. O homem ressentido é aquele que não aceita o curso do tempo. O cristianismo, ao propor o perdão, tentou dissolver esse veneno. Mas o perdão, no Brasil, nunca foi entendido como superação, e sim como omissão. A sociedade brasileira não perdoa nem pune. Apenas repete.
.
A vingança, portanto, é a estrutura da memória coletiva brasileira. Cada gesto de violência é uma lembrança que não pôde ser dita. Cada favela incendiada é um arquivo. Cada operação policial é uma reedição de um trauma antigo. A cidade é uma arqueologia de vinganças.
A antropologia da vingança ensina que ela sobrevive porque dá sentido à dor. O sofrimento, sem narrativa, enlouquece. A vingança, mesmo trágica, organiza o caos. É uma tentativa de tradução do inominável. Por isso ela resiste à moral e à razão. Ela é um idioma da alma.
.
E talvez seja por isso que o Brasil não consegue abandoná-la. Porque o país ainda não aprendeu a transformar a dor em linguagem. O povo só tem duas formas de expressão: o riso e o sangue. Quando ri, resiste. Quando sangra, vinga-se. O Estado, incapaz de escutar o riso, responde ao sangue com mais sangue. É um diálogo entre feridas.
.
Mas em cada gesto de vingança há também um vestígio de humanidade. O que move o homem a revidar é, paradoxalmente, o mesmo que o move a amar: a impossibilidade de ser indiferente. A vingança é o avesso da compaixão. Ambas nascem do mesmo impulso de não aceitar o mal como destino.
.
Talvez por isso a vingança, em sua forma mais pura, contenha a semente da transformação. O homem que se vinga diz, em silêncio: eu lembro. E lembrar é o primeiro passo para compreender. Se o país um dia aprender a transformar a vingança em memória, o ciclo pode enfim se quebrar.
A arte sempre compreendeu antes do poder. A literatura, o teatro e o cinema pressentiram que a vingança não é apenas um ato, mas uma força cósmica, uma energia moral que atravessa séculos e se metamorfoseia nos gestos humanos. Em cada tragédia, em cada romance, em cada verso, há o eco desse instinto de correção e retorno, o desejo antigo de restaurar um equilíbrio que o mundo insiste em violar.
.
Na Grécia, Ésquilo escreveu Orestéia como o drama inaugural da passagem da vingança à justiça. O sangue de Agamêmnon, derramado por Clitemnestra, é vingado por Orestes, que por sua vez é perseguido pelas Erínias, as deusas da vingança. A peça termina com a fundação do tribunal de Atenas, onde a razão substitui a retribuição. É o mito da civilização: a justiça nasce quando a vingança é domesticada. Mas mesmo na vitória da razão, o instinto vingador não desaparece, apenas se transforma em lei.
.
Shakespeare compreendeu esse paradoxo e o levou ao extremo. Hamlet é a meditação mais profunda já escrita sobre o veneno do revidar. O príncipe da Dinamarca hesita entre agir e compreender, entre vingar o pai e decifrar o crime. Sua dúvida é filosófica: o que é mais humano, punir ou entender? O resultado é o colapso. Todos morrem, e a vingança, que deveria restaurar a ordem, destrói tudo. Shakespeare entendeu que a vingança é um espelho do próprio pensamento: quanto mais o homem tenta controlar o mal, mais o mal o devora.
No século XIX, a vingança ganhou corpo épico em Alexandre Dumas. O Conde de Monte Cristo é o grande romance do ressentimento. Edmond Dantès é traído, preso, humilhado, e retorna como sombra para destruir os que o condenaram. É uma vingança meticulosamente planejada, racional e fria. Mas, ao final, Dantès percebe que a vingança é uma prisão tão absoluta quanto a cela em que esteve confinado. A liberdade só retorna quando ele abdica do castigo. O romance ensina o que o mundo ainda não aprendeu: vingar-se é continuar sendo prisioneiro.
.
A literatura russa, com Dostoievski, mergulhou ainda mais fundo. Em Crime e Castigo, a vingança se desloca para dentro. Raskólnikov não busca revidar o mal alheio, mas provar a si mesmo que pode ultrapassar a moral. Mata por ideia, e é punido pela consciência. A vingança aqui é interior, metafísica, transformada em culpa. O castigo já não vem de fora, vem do pensamento. A humanidade descobre que o inferno é a memória.
.
Na modernidade, a vingança se estetizou. O cinema a transformou em mito contemporâneo. De Os Brutos Também Amam a Kill Bill, de O Poderoso Chefão a Cidade de Deus, de Taxi Driver a Tropa de Elite, a vingança é o eixo dramático das narrativas que tentam compreender o caos. A câmera se tornou o novo espelho da retribuição. O herói vingador substitui o santo, o justiceiro substitui o mártir.
No Brasil, a vingança encontrou terreno fértil, porque o país é uma ferida antiga. A dramaturgia de Nelson Rodrigues é uma sequência de vinganças familiares, morais, eróticas. Cada personagem tenta corrigir uma humilhação. Cada cena é uma confissão de ressentimento. Nelson compreendeu que o Brasil é um país que ama punir, mas teme o perdão. Sua tragédia é doméstica, mas universal: todos se vingam de todos, e ninguém se salva.
.
O cinema brasileiro herdou essa melancolia vingadora. Deus e o Diabo na Terra do Sol é o épico da vingança do sertão, onde o homem massacrado pela miséria se rebela contra o destino e acaba devorado pela própria violência. Glauber Rocha filmou o Brasil como uma Orestéia tropical. Em Tropa de Elite, a vingança ganha farda, discurso e estrutura. O capitão Nascimento é o herdeiro moderno de Orestes: mata para purificar, pune para redimir, e termina aprisionado pela culpa.
.
A vingança também é tema constante da canção popular. No samba, ela aparece disfarçada de ironia. O traído que canta, o ofendido que ri, o humilhado que responde com malícia. Cartola, Nelson Cavaquinho, Lupicínio Rodrigues, todos transformaram o ressentimento em melodia. O samba é a vingança musical dos derrotados. A dor vira ritmo, o abandono vira elegância. O Brasil, que não sabe elaborar a vingança racionalmente, a elabora cantando.
.
Na poesia, a vingança é memória. Drummond escreveu: “A dor é inevitável, o sofrimento é opcional.” É a superação poética da vingança. Cecília Meireles, em sua pureza melancólica, transformou a perda em transcendência. João Cabral de Melo Neto, com sua secura, fez da violência uma arquitetura. Em todos, a vingança se dissolve em forma, se eleva à estética, se purifica no ritmo.
.
Na cultura contemporânea, porém, a vingança se banalizou. O entretenimento a transformou em catarse rápida. As séries de televisão, as redes sociais, os jogos eletrônicos multiplicam vingadores. O público se alimenta do prazer de punir virtualmente. É o espetáculo da revanche sem responsabilidade. A vingança se tornou consumo, e o consumo é o novo modo de esquecer.
.
Mas, por trás dessa banalização, há uma verdade profunda: o homem contemporâneo continua buscando sentido no desequilíbrio. A vingança é o simulacro moderno da justiça perdida. Quando as instituições falham, quando a política mente, quando o direito não chega, o indivíduo busca na retribuição o consolo da ordem. O problema é que a vingança oferece apenas uma estética da solução, não a solução.
O Brasil, com seu cinema, sua música, sua literatura, espelha isso com precisão trágica. Cada forma de arte é uma tentativa de interromper o ciclo. Cada gesto artístico é uma vingança transformada em linguagem. O poeta vinga-se do silêncio, o cineasta vinga-se da ignorância, o músico vinga-se da miséria. A arte é a vingança sublimada do país.
.
Mas talvez o mais belo nisso tudo seja perceber que essa vingança estética não destrói, cria. O sofrimento, quando se transforma em beleza, é o início da redenção. A favela que canta, o cineasta que filma, o escritor que narra, todos vingam-se da morte com a vida. A arte é o único tipo de vingança que liberta.
.
A história do Brasil é uma longa pedagogia da vingança. Desde o primeiro desembarque português, o poder se organizou pela correção, não pela convivência. A conquista foi o primeiro ato punitivo. Os indígenas, os negros, os mestiços, os pobres, todos foram punidos por existir fora da norma europeia. A colonização foi uma cruzada moral: punir o outro era purificar o mundo. O país nasceu como um campo de castigo.
.
A Coroa portuguesa construiu aqui um Estado que confundia fé com disciplina. O castigo era o instrumento da salvação. A vingança divina se tornava vingança real. A violência não era exceção, era doutrina. O chicote era o catecismo. O pelourinho era o altar. A religião legitimava o suplício, e o suplício confirmava a ordem. O poder não precisava justificar-se: bastava punir para provar que era justo.
.
A escravidão consolidou essa moral de ferro. Durante mais de trezentos anos, o Brasil praticou a vingança cotidiana como política econômica. O senhor punia o escravo não apenas para extrair trabalho, mas para confirmar o domínio. O sofrimento alheio era um espetáculo de autoridade. O castigo era a pedagogia da hierarquia. A chibata e o tronco foram os primeiros códigos administrativos do país.
.
Quando a abolição chegou, ela não destruiu a estrutura, apenas mudou os personagens. O Estado herdou a função do senhor. O policial herdou o papel do feitor. A sociedade herdou o medo. A vingança mudou de endereço, mas não de sentido. A República nasceu punitiva. A liberdade era vigiada, a igualdade era uma promessa, a fraternidade era um disfarce.
O Império havia se sustentado pela nobreza da violência legitimada. A República se sustentaria pela burocracia da vingança. O Estado moderno transformou o castigo em lei. A vingança ganhou timbre oficial. As cadeias, os manicômios, os presídios, as delegacias, as operações militares foram os novos engenhos. O Brasil civilizou o suplício.
.
Cada governo, ao longo dos séculos, exerceu sua própria vingança histórica. Vargas vingou-se das oligarquias. A ditadura vingou-se da liberdade. A redemocratização vingou-se da censura com a indiferença. O poder brasileiro não sabe reconciliar, apenas alternar o ressentimento. As transições políticas são acertos de contas. Os pactos nacionais são apenas trégua entre vinganças.
.
A herança colonial fez da violência um código cultural. O Estado é um feitor travestido de república. Ele se relaciona com o cidadão como o senhor se relacionava com o escravo: com desconfiança e necessidade. O povo é tolerado, nunca respeitado. E, quando se rebela, é punido. O Estado brasileiro não dialoga, responde. A vingança é a língua oficial da política.
.
Essa estrutura moldou a mentalidade das elites e dos governantes. A política é o prolongamento da senzala, e o poder é a casa-grande ampliada. O governante age como se o povo devesse obediência filial. O povo age como quem finge obedecer. A desconfiança é mútua, a vingança é recíproca. O Brasil é um país de simulacros e retaliações.
A urbanização do século XX apenas sofisticou o sistema. As favelas, criadas por expulsões e remoções, tornaram-se o novo cativeiro. O Estado, incapaz de incluir, prefere vigiar. E o favelado, transformado em símbolo do perigo, devolve ao Estado o mesmo olhar de ódio. O Rio de Janeiro é o ponto mais visível dessa arquitetura: uma cidade partida entre os que punem e os que são punidos.
.
As ditaduras brasileiras foram expressões puras dessa vingança institucional. De Vargas a Médici, o poder se apresentou como pai severo, disciplinador, moralizador. O inimigo interno era o filho desobediente que precisava apanhar para aprender. As torturas, os exílios, as censuras foram as chibatadas da nova ordem. A violência foi travestida de pedagogia nacional.
.
Mesmo a democracia herdou esse ethos. Cada governo vinga o anterior. Cada partido destrói o que o outro construiu. A oposição, quando vence, transforma o poder em acerto de contas. A política é um pêndulo entre o ressentimento e o revanchismo. Não há continuidade, apenas alternância de rancores.
.
Essa vingança estrutural explica o fracasso da cidadania no Brasil. O cidadão é tratado como suspeito. O voto é tolerado como concessão, não reconhecido como direito. O Estado não protege, controla. O governo não serve, corrige. A autoridade não escuta, pune. O Brasil é uma democracia punitiva.
.
No Rio de Janeiro, esse modelo atinge sua forma mais visível. As operações policiais são a atualização diária da mentalidade senhorial. Cada incursão nas favelas é uma repetição moderna das expedições coloniais. A cidade alta invade a cidade baixa como se descesse para civilizar o bárbaro. O morro é a colônia permanente.
Mas o povo do morro aprendeu com a história. Sua vingança é silenciosa, simbólica, paciente. O favelado, impedido de exercer poder, transforma o cotidiano em resistência. Sua cultura é sua resposta. A música, o corpo, o riso, o improviso são as armas de quem se recusa a morrer. A vingança do oprimido é continuar existindo.
.
O Estado, porém, não entende símbolos. Ele exige obediência visível. Sua linguagem é a força. Por isso o conflito é eterno. A vingança do poder é o controle. A vingança do povo é a sobrevivência. A cidade é o campo de batalha onde essas duas forças se reconhecem e se anulam.
.
O Brasil, ao longo de cinco séculos, nunca superou a pedagogia do suplício. Muda o uniforme, muda o nome, muda o discurso, mas o gesto é o mesmo. O país não administra o futuro, apenas reencena o passado. O Estado ainda age como colono. O povo ainda resiste como escravo. A vingança é o vínculo que mantém a história em movimento.
.
O século XXI não reinventou o castigo, apenas o sistematizou. A vingança se converteu em política pública. O discurso da segurança substituiu o da cidadania. O Estado transformou o medo em método. A retórica da guerra às drogas, da ordem, da autoridade, é o novo nome do velho instinto de vingança. Punir se tornou sinônimo de governar. Controlar é o novo verbo de amar.
.
O Rio de Janeiro é o epicentro dessa modernização do suplício. A cidade se converteu em vitrine do controle. Cada favela é um território sob suspeita, cada morador é um inimigo em potencial, cada operação é um ato de fé do Estado em sua própria brutalidade. O helicóptero que sobrevoa o morro é o anjo vingador da República. A sirene é o canto litúrgico da nova religião da força.
.
O governador, ao prometer ordem, promete vingança. Sua autoridade se afirma pela retaliação. Cada ação policial é uma resposta simbólica às mortes de agentes, aos ataques à imagem do Estado, ao desrespeito à hierarquia. O poder precisa vingar seus soldados como um rei vinga seus cavaleiros. A justiça se transforma em rito funerário. A política se reduz a uma cerimônia de luto armado.
A polícia, nesse cenário, é mais do que uma instituição. É uma irmandade. Uma confraria que compartilha uma moral própria, uma teologia do sacrifício. O policial é treinado para crer que o mundo é dividido entre os que protegem e os que ameaçam. A vingança é o cimento dessa fé. A morte de um colega é um chamado à reparação. A cada operação, a corporação reitera sua lealdade à memória dos mortos.
.
O resultado é uma polícia que vive num tempo diferente do Estado. Enquanto o governo muda, a corporação permanece. Ela é a memória viva das guerras urbanas. O policial de hoje carrega o ressentimento dos batalhões de ontem. A vingança se transmite como tradição. É a herança emocional da violência. O Estado pode mudar de partido, mas a polícia continua vingando o mesmo inimigo.
.
E o inimigo é sempre o mesmo: o pobre. O Estado brasileiro nunca superou a necessidade de ter um outro sobre quem exercer a força. O morador de favela é o substituto simbólico do escravo. É sobre ele que o poder renova sua autoridade. A cada incursão, o Estado reafirma seu domínio sobre a parte da cidade que teme. A vingança é o modo de manter o medo sob controle.
.
Mas o medo é uma entidade rebelde. Ele nunca se deixa domesticar. A violência que parte do Estado volta como resposta das ruas. Os moradores, as mães, os jovens, todos transformam o luto em raiva. A morte de um policial gera outra operação. A morte de um menino gera outro protesto. A cidade é uma sucessão de funerais. O luto é o novo calendário cívico.
.
O Rio de Janeiro vive em estado de guerra civil difusa. O Estado e o povo compartilham o mesmo território, mas não a mesma linguagem. A vingança é o único idioma comum, o único canal de comunicação possível. O policial fala com o fuzil. O morador responde com o silêncio. A cidade inteira é um diálogo interrompido.
.
A vingança, transformada em doutrina, invade a alma das instituições. O Ministério Público, o Judiciário, a política, todos participam do mesmo rito. A operação se torna espetáculo. A morte é apresentada como triunfo. O noticiário reproduz o gesto litúrgico. O poder precisa de sangue para justificar a si mesmo.
.
Por isso, cada operação é também um ato estético. O helicóptero filmando o fogo, os repórteres narrando a invasão, as autoridades justificando as mortes — tudo compõe uma mise-en-scène trágica. A vingança é performática. Ela precisa ser vista para existir. O Estado se encena punindo. O público assiste vingando-se através do Estado.
O problema é que o espetáculo se tornou rotina. A repetição matou o sentido. As operações já não causam indignação, apenas cansaço. A vingança perdeu a aura. Tornou-se hábito. A cidade aprendeu a dormir ao som dos tiros. A dor foi normalizada. O medo virou paisagem. O castigo virou ruído de fundo.
.
Mas o inconsciente não esquece. O que a sociedade finge aceitar, a memória guarda. A vingança não é apenas um gesto, é uma inscrição. Cada morte cria um arquivo. Cada corpo é uma lembrança. A cidade está coberta de memórias subterrâneas, de nomes não ditos, de histórias não contadas. O futuro do Rio é feito de fantasmas.
.
O Estado acredita que governa pela força, mas é governado pelo medo. A polícia acredita que domina, mas é dominada pelo luto. O povo acredita que sobrevive, mas é mantido vivo apenas para continuar sofrendo. A vingança é a engrenagem que move o labirinto.
.
E, ainda assim, há algo profundamente humano nesse labirinto. Porque a vingança, mesmo cega, é uma forma de busca. O policial que atira e o morador que chora compartilham a mesma pergunta: por que morremos tanto? Ambos sabem que não é apenas pela bala, mas pela história. O que os separa não é o ódio, é o destino.
.
O Rio de Janeiro é o espelho de um país que nunca foi capaz de se reconciliar consigo mesmo. Cada operação policial é um ensaio da guerra que o Brasil trava contra sua própria imagem. A vingança é o fio que costura o Estado e o povo, o poder e a miséria, o medo e o desejo. A cidade é o corpo onde o país experimenta o sabor amargo de si mesmo.
.
E talvez seja isso que mais assuste: a vingança já não é exceção, é identidade. O Brasil se reconhece na dor. O Rio é seu rosto verdadeiro, belo e ferido, altivo e humilhado, luminoso e trágico. O século do acerto de contas não será apenas político. Será espiritual.
.
A vingança, no Rio de Janeiro, já não é apenas uma ação: é uma atmosfera. Ela está no ar que se respira, nas conversas interrompidas, nas orações das mães, nas procissões invisíveis que percorrem as vielas. Está nos olhos das viúvas, nas mãos trêmulas dos policiais, nos corpos dos jovens que crescem sabendo que a vida pode acabar a qualquer instante. A cidade inteira é um corpo ferido que aprendeu a andar.
.
Mas esse corpo ainda sente. E sentir é o que o mantém vivo. A vingança, que por tanto tempo foi impulso de destruição, começa lentamente a se converter em linguagem. As favelas, cansadas de morrer, transformam a dor em palavra. O rap, o funk, o samba, o grafite, o teatro, todos são modos de dizer o indizível. Cada verso é uma recusa ao esquecimento. Cada batida é uma tradução da ferida.
.
A memória coletiva do Rio é feita de ecos. Os mortos falam pelos vivos, e os vivos carregam os mortos como tatuagem na alma. Não há perdão porque ainda não houve escuta. O país ainda não se ouviu. Mas nas bordas, nos becos, nos becos de dentro dos becos, algo muda: as vozes se organizam. A palavra começa a substituir o tiro. A vingança, quando vira narrativa, começa a perder o peso da repetição.
.
A espiritualidade das favelas é o ponto de virada. Ali, a religião não é castigo, é sobrevivência. Deus não é juiz, é abrigo. A fé não é moral, é respiro. O sagrado, no alto dos morros, é o último refúgio contra o colapso. As mães rezam não para vingar, mas para suportar. Oração é resistência. Cada vela acesa é um pacto com a lembrança. A vingança, purificada pela fé, se transforma em vigília.
Há nas favelas uma ética subterrânea, uma moral do cuidado que o Estado desconhece. O que sustenta o cotidiano não é o medo, é a solidariedade. A vizinha que alimenta o órfão, o jovem que ajuda o idoso, o coletivo que organiza a cultura, todos esses gestos são micro-revoluções contra o ciclo do castigo. A vingança perde poder diante da partilha. O amor comunitário é a forma mais radical de resistência.
.
E o Estado, mesmo sem compreender, sente o deslocamento. A violência já não produz obediência, apenas exaustão. O medo se tornou rotina, e o terror perdeu eficácia. O poder precisa de fé, e o povo já não acredita. A vingança começa a perder o monopólio da moral. O país, ainda que confuso, começa a desejar outra linguagem.
.
O futuro do Rio não virá das armas nem das leis, mas da memória. Só o que é lembrado pode ser transformado. O esquecimento é a forma mais cruel de vingança, porque mata duas vezes. O país precisa recontar sua história, sem glória e sem heroísmo. Precisa admitir que cada ato de violência foi também um ato de covardia. Precisa aprender que a coragem maior é interromper o ciclo.
O século do acerto de contas não será o século do castigo, mas o século da consciência. A vingança, como toda paixão humana, não desaparecerá. Mas poderá ser transfigurada. O que hoje é raiva pode se tornar lucidez. O que hoje é dor pode se tornar criação. O que hoje é sangue pode se tornar palavra.
.
O Rio de Janeiro, essa cidade de tragédias e auroras, será o laboratório dessa metamorfose. Se há um lugar capaz de transformar a vingança em arte, a morte em memória e a dor em beleza, esse lugar é o Rio. A cidade que resiste à própria ruína é também a que anuncia o novo.
.
E talvez, quando o país aprender a ouvir suas favelas, a olhar seus mortos, a respeitar seus sobreviventes, a vingança finalmente se dissolva naquilo que sempre foi sua origem: o desejo de justiça. Porque vingar-se, no fundo, é querer que o mundo volte a ser justo. E talvez o perdão, um dia, seja apenas a vingança que aprendeu a amar.
.
O tempo do Brasil é o tempo da ferida. A nação nunca curou, apenas cobriu as chagas com bandeiras. O sangue seca, mas a dor fica. O país avança como quem rasteja, com as pernas presas às correntes invisíveis do passado. A vingança é o fio que costura todas as suas épocas, de Canudos a Jacarezinho, de Palmares ao Alemão, de Araguaia à Maré. O Brasil é uma nação que não sepulta, apenas acumula mortos.
.
As forças de segurança e os moradores das favelas são espelhos um do outro. Ambos filhos do mesmo abandono, da mesma miséria simbólica, da mesma ausência de futuro. O policial e o favelado se enfrentam porque são gêmeos trágicos. Ambos foram criados por um Estado que ensina a temer. Ambos foram formados por uma sociedade que despreza a vida. Ambos foram educados no mesmo ritual de humilhação.
A vingança, nesse contexto, é o sintoma mais puro da humanidade que resta. É o grito de quem se recusa a ser coisa. É a prova de que ainda há emoção no país das estatísticas. Ela é brutal, sim, mas é também o último vestígio de um sentimento de justiça. Porque onde não há tribunal, resta o desejo de equilibrar a dor.
.
Por isso o século do acerto de contas não será político, será humano. Ele não começará nas instituições, mas nas consciências. O Brasil precisará reeducar sua alma. Aprenderá que justiça não é castigo, é cuidado. Que autoridade não é violência, é escuta. Que vingança não é coragem, é medo. Que perdão não é fraqueza, é lucidez.
.
Mas esse aprendizado será lento. A vingança não desaparecerá, apenas se tornará subterrânea. Continuará pulsando nas memórias, nas narrativas, nas ausências. Cada mãe que chora um filho morto pela polícia, cada policial que sepulta um colega, cada morador que cresce sob a mira de um fuzil, todos são depositários de um mesmo trauma nacional. O Brasil inteiro é uma família que se odeia porque não se conhece.
.
Um dia, talvez, o país se olhe no espelho e reconheça que sua história é feita de acertos de contas adiados. Que sua política é uma pedagogia do ressentimento. Que sua economia é uma administração da dor. Que seu Estado é uma instituição da desconfiança. E, ao perceber isso, talvez o país comece a sonhar com algo novo.
.
A vingança que hoje move o Rio de Janeiro não é um fim, é um início. Ela é o primeiro passo para a consciência. O ódio, quando reconhecido, pode se converter em sabedoria. A raiva, quando nomeada, pode se tornar compaixão. A cidade que hoje sangra é também a que pode ensinar a curar. O Rio é a metáfora do Brasil porque nele a tragédia é visível. E onde há visibilidade, há possibilidade de redenção.
O século do acerto de contas será o século da escuta. O Brasil precisará ouvir seus morros, seus presídios, suas ruas, seus mortos. Precisará compreender que cada bala perdida é um pensamento mal formulado, que cada operação é uma ideia de país fracassada, que cada vingança é uma tentativa de dizer o indizível. O país precisará reaprender a linguagem.
.
Quando isso acontecer, talvez se compreenda que o verdadeiro oposto da vingança não é o perdão, é o reconhecimento. Só se pode perdoar o que se conhece. Só se pode amar o que se compreende. O futuro do Brasil não está nas armas, está na memória. A justiça será o outro nome da lembrança.
.
E então, talvez, um dia, a cidade que aprendeu a viver em guerra descobrirá que a paz não é a ausência de conflito, mas a presença da escuta. Que o amor não é a negação da dor, mas a coragem de atravessá-la. Que o perdão não é esquecimento, é memória pacificada.
.
Nesse dia, o Rio de Janeiro deixará de ser a vingança das cidades partidas e se tornará o início das cidades reconciliadas. O sangue que hoje mancha o chão será a tinta de uma nova linguagem. E o país, cansado de se vingar de si mesmo, poderá enfim recomeçar.
—————-
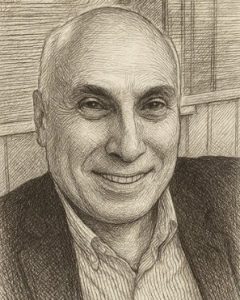
*Paulo Baía é sociólogo, cientista político e professor aposentado do Departamento de Sociologia da UFRJ. Suburbano de Marechal Hermes, é torcedor apaixonado do Flamengo e portelense de coração. Com formação em Ciências Sociais, mestrado em Ciência Política e doutorado em Ciências Sociais, construiu uma trajetória acadêmica marcada pelo estudo da violência urbana, do poder local, das exclusões sociais e das sociabilidades periféricas. Atuou como gestor público nos governos estadual e federal, e atualmente é pesquisador associado ao LAPPCOM e ao NECVU, ambos da UFRJ. É analista político e social, colunista do site Agenda do Poder e de diversos meios de comunicação, onde comenta a conjuntura brasileira com olhar crítico e comprometido com os direitos humanos, a democracia e os saberes populares. Leitor compulsivo e cronista do cotidiano, escreve com frequência sobre as experiências urbanas e humanas que marcam a vida nas cidades.
———————
** Leia outros artigos e crônicas do autor publicados na revista. clique aqui
.
Leia também:



