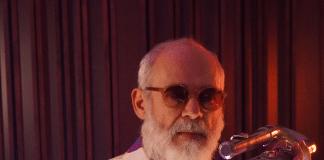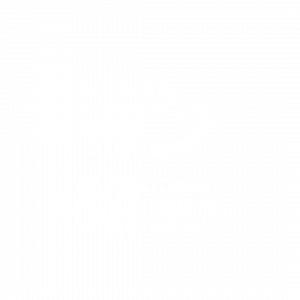Um preso sonhou que estava preso. Com nuances, claro, com diferenças. Por exemplo, na parede do sonho havia um pôster de Paris; na parede real havia apenas uma mancha escura de umidade. No chão do sonho corria uma lagartixa; no chão de verdade um rato o fitava.
O preso sonhou que estava preso. Alguém massageava suas costas e ele começava a se sentir melhor. Não conseguia ver a pessoa, mas tinha certeza de que era sua mãe, uma especialista no assunto. Pela ampla janela entrava o sol da manhã, e ele o recebia como um sinal de liberdade. Quando abriu os olhos, não havia sol. A janeleta gradeada (três palmos por dois) dava para um poço de ventilação, para outro muro de sombras.
O preso sonhou que estava preso. Que tinha sede e bebia muita água gelada. E a água logo brotava por seus olhos sob forma de choro. Sabia por que chorava, mas não o confessava nem a si mesmo. Fitava as mãos ociosas que antes construíam torsos, rostos de gesso, pernas, corpos enlaçados, mulheres de mármore. Quando acordou, seus olhos estavam secos, as mãos sujas, as juntas enferrujadas, o pulso acelerado, os brônquios sem ar, o teto com goteiras.
Então o preso decidiu que era melhor sonhar que estava preso. Fechou os olhos e se viu com um retrato de Milagros nas mãos. Mas ele não se contentava com a foto. Queria Milagros em pessoa, e ela apareceu, com um sorriso largo e uma camisola azul. Aproximou-se para que ele a tirasse, e ele, claro, a tirou. A nudez de Milagros era sem dúvida milagrosa, e ele a percorreu com toda sua memória, com todo seu prazer. Não queria acordar, mas acordou, alguns segundos antes do orgasmo onírico e virtual. E não havia ninguém. Nem foto, nem Milagros, nem camisola azul. Reconheceu que a solidão podia ser insuportável.
O preso sonhou que estava preso. Sua mãe já não o massageava, entre outras coisas, porque fazia anos que tinha morrido. Foi invadido pela saudade do seu olhar, do seu canto, do seu regaço, dos seus carinhos, das suas acusações, dos seus perdões. Abraçou a si mesmo, mas não valia. Milagros lhe dava adeus, de muito longe. Ele achou que de um cemitério. Mas não podia ser. Era um parque.
Mas na cela não havia parque, portanto, mesmo no sonho, sabia que era apenas isso: um sonho. Ergueu o braço para também dar seu adeus. Mas sua mão era só um punho, e, como se sabe, os punhos não aprenderam a dizer adeus.
Quando abriu os olhos, o catre de sempre lhe transmitiu um frio impertinente. Trêmulo, intumescido, tentou aquecer as mãos com o hálito. Mas não conseguia respirar. Lá no canto, o rato, tão congelado quanto ele, o fitava. Mexeu uma das mãos, e o rato adiantou uma pata. Eram velhos conhecidos. Às vezes lhe jogava um pouco da sua horrível, mísera comida. O rato era grato.
Mesmo assim, o preso sentiu falta da verde, agilíssima lagartixa dos seus sonhos e adormeceu para recuperá-la. Descobriu que a lagartixa tinha perdido o rabo. Um sonho assim já não valia a pena ser sonhado. E no entanto. No entanto, começou a contar com os dedos os anos que lhe faltavam. Um dois três quatro, e acordou. Eram seis no total, e ele já cumprira três. Contou de novo, mas agora com os dedos acordados.
Não tinha rádio, nem relógio, nem livros, nem lápis, nem caderno. Às vezes cantava baixinho para preencher precariamente o vazio. Mas cada vez recordava menos músicas. Quando era criança, também aprendera algumas orações que sua avó lhe ensinara. Mas agora para quem iria rezar? Sentia-se enganado por Deus, mas ele também não queria enganar a Deus.
O preso sonhou que estava preso e que Deus chegava e confessava que estava cansado, que sofria de insônia e que isso o esgotava, e que às vezes, quando enfim conseguia conciliar o sono, tinha pesadelos com Jesus na cruz pedindo-lhe ajuda, que Ele, por capricho, não dava.
O pior de tudo, dizia Deus, é que Eu não tenho Deus a quem recorrer. Sou como um Órfão com O maiúsculo. O preso sentiu pena desse Deus tão só e abandonado. Entendeu que, em todo caso, o mal de Deus era a solidão, já que sua fama de supremo, imutável e eterno afugentava os santos, tanto os titulares quanto os reservas. Quando acordou e se lembrou de que era ateu, não teve mais pena de Deus, ao contrário, sentiu pena de si mesmo, que estava enclausurado, solitário, mergulhado na imundície e no tédio.
Depois de incontáveis sonhos e vigílias, chegou uma tarde em que, dormindo, foi sacudido sem a brutalidade habitual, e um guarda o mandou levantar porque lhe haviam concedido a liberdade. O preso só se convenceu de que não estava sonhando quando sentiu o frio do catre e constatou a eterna presença do rato. Despediu-se dele com pesar e saiu com o guarda para receber a roupa, algum dinheiro, o relógio, uma esferográfica, uma carteira de couro, as poucas coisas que tomaram dele ao prendê-lo.
Na rua ninguém o esperava. Começou a andar. Andou por dois dias, dormindo à beira da estrada ou entre as árvores. Num bar de subúrbio, comeu dois sanduíches e tomou uma cerveja em que reconheceu um sabor antigo. Quando por fim chegou à casa da irmã, ela quase desmaiou com a surpresa. Ficaram abraçados uns dez minutos. Depois de chorar um pouco, ela perguntou o que estava pensando fazer. Agora, tomar um banho e dormir, estou completamente arrebentado. Depois do banho, ela o levou até um desvão onde havia uma cama. Não um catre imundo, mas uma cama limpa, macia e decente. Dormiu mais de 12 horas seguidas. Curiosamente, durante esse longo descanso, o ex-preso sonhou que estava preso. Com lagartixa e tudo.
– Mario Benedetti, no livro “Correio do tempo”. tradução Rubia Prates Goldoni. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.