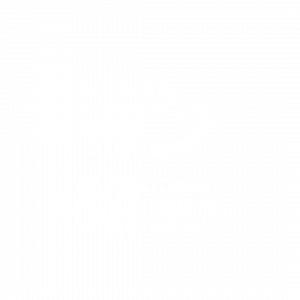Senta, coloca uma setlist de punk rock, de preferência com bandas como Bulimia, Dominatrix, Pussy Riot, Gossip, Bikini Kill e Bratmobile, que lá vem a história.
Você já ouviu falar de um movimento que nasceu nos Estados Unidos nos anos 90 que surgiu como contra-ataque ao machismo do rock, especialmente do punk (sim, o “super alternativo” punk)? Riot Grrl não é uma referência a uma estampa, em tese empoderadora, de alguma camiseta vendida em lojas de departamento. Também não tem qualquer ligação com super-heroínas coloridas de desenhos, séries ou filmes.
Riot Grrl foi um movimento extremamente fluido que proclamou em palavras, gritos, grunhidos, gemidos e ruídos de guitarra que não era mais aceitável que mulheres fossem empurradas para a parte de trás da sala com violência física, sexual, psicológica, simbólica e econômica, enquanto os homens se divertiam no palco principal fazendo mosh. Deu-se um grito alto e claro por rebeldia: “as garotas podem ocupar o palco e também podem comandar o show”. Rebelou-se contra um dos dogmas sacros do mundo do rock: Garotas não são capazes de tocar guitarra, bateria ou baixo tão bem quanto os homens.
Se o punk era agressivo demais para incluir mulheres, foi com o mesmo tom de agressividade que as punks reagiram contra essa misoginia. As Riot Grrls adotaram um feminismo exaltado e contundente que colocava em cheque o estereótipo querido, meigo e frágil de mulheres sem raça e sem classe. As músicas barulhentas e pesadas vociferavam liberdade sexual e questionavam a objetificação do corpo e beleza das mulheres. A heterossexualidade também é bastante questionada, a ponto de se formar uma categoria de riot grrrls que se assumem lésbicas, as dykes.
Através de ferramentas como fanzines, (uma produção escrita, artesanal ao alcance de todos e todas que queiram escrever, divulgar opiniões, bandas, artes, notícias), festivais, atitudes ditas “chocantes”, como levantar a blusa e exibir palavras como “slut” (vadia) e rape (estupro) escritas em seus corpos, roupas que subvertiam a moda mainstream da época, e principalmente a música feroz, o movimento incentivava mulheres a montarem suas próprias bandas, aprenderem a tocar instrumentos sozinhas – sob a base do lema punk “faça você mesmo” (do it yourself – sigla DIY), mas também a reivindicar e lutar pelos seus direitos.
Impulsos criativos e viscerais emanados por Kathleen Hanna, Tobi Vail e Johanna Fateman marcaram cenários músicas e clipes que não passaram no horário nobre da MTV. As Grrls riots, sem “i” mas com vários “Rs”, denotavam garotas assertivas, resolutas e engajadas em questões feministas que buscavam participar como protagonistas no cenário musical – lembrando que a interjeição Grrl em inglês sempre representou raiva. Garotas arruaceiras e rebeldes que buscavam denunciar o lugar intrincado e inquietantes que impediam a auto-representação das mulheres.
As garotas do Riot Grrl que ousavam desnaturalizar o espaço público convencionalmente masculino do mundo punk denunciavam uma modalidade de violência contra a mulheres que ultrapassava a esfera privada. De uma forma não premeditada, esse “movimento sem líderes ou ideologia centralizada” ampliava a conceituação de violência contra a mulher ao incluir a violência política, uma modalidade da esfera pública. Promovia-se um diagnóstico punk feminista de uma forma de violência que resultava do aumento da participação das mulheres na política.
Meu ponto com esse breve relato sobre o Riot Grrrl é que, além de se tratar de uma obra de arte feminina que com a fúria de suas vozes leva ao limite a imagem de garotas “desajustadas”, deprimidas e transtornadas, o movimento expressa uma modalidade de resistência criativa na esfera da cultura e na vida cotidiana. Revoluções, manifestações, insurreições e rupturas não só existem pelas vias tradicionais, mas também pelas práticas e produções de si como meios de transformação.
As garotas rebeldes trazem uma nova perspectiva de como lidar com questões políticas a partir de um ativismo que baseado na subversão diária de uma cena masculina da nossa sociedade patriarcal, por meio da criação de linguagem, berros, corpos, sexo, arte, comunidades, escritas e diálogos.
“O pessoal é político”. Não há um espaço privilegiado para resistir. É preciso inventar (-se) cotidianamente nem que seja através de um excelente setlist…
* Julia Gitirana, colunista da Revista Prosa Verso e Arte. Formada em Direito pela PUC-Rio, especialista em Direito Penal e Criminologia pelo ICPC, Mestre em Direito pela PUC-Rio, Doutoranda em Políticas Públicas pela UFPR e apaixonada por filosofia.
Clique AQUI e leia outras colunas da autora.