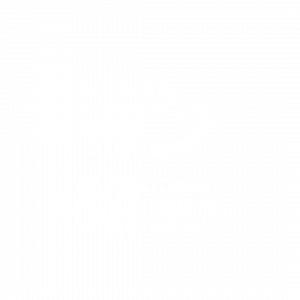O tema da coluna de hoje é uma das questões mais caras de direitos humanos para mim: a sistemática morte de um grupo específico de pessoas pelo Estado que, sem pudores, escolhe quem vai viver e morrer. Esse é o tema da minha dissertação de mestrado que vem sendo produzida e, recentemente, objeto de pesquisa, destacando o papel dos autos de resistência nessa política de extermínio direcionada, com dois amigos queridos que assinam comigo essa coluna, uma verdadeira proposta de reflexão dessa dura realidade à luz da filosofia, feita à seis mãos: Gabriela Fenske e Gilberto Santiago.
Combinando nossas pesquisas, procuramos estabelecer um paralelo entre os conceitos biopolíticos expressos na obra do filósofo político italiano Giorgio Agamben, destacadamente Homo Sacer – O poder soberano e a vida nua e Estado de exceção, com o instituto brasileiro dos autos de resistência. Desse modo pretendemos demonstrar e, principalmente, refletir a existência de uma parcela muito específica da população brasileira que pode ser equiparada à figura do homo sacer e que vive sob a égide de um permanente estado de exceção, eis que habitual a violação de seus direitos, destacadamente, o direito à vida. É sobre isso que, brevemente, falaremos hoje sem a pretensão de esgotar o assunto ou de trazer respostas definitivas sobre o mesmo.
Em Homo Sacer – O poder soberano e a vida nua (2014), Giorgio Agamben trata do conceito de biopolítica construindo sua base teórica através dos escritos de Michel Foucault e Hannah Arendt. Nesse trabalho, o autor discorre sobre o modo pelo qual o governo pode fazer a vida humana se tornar um objeto útil para outros fins. O que Agamben extrai prioritariamente de seus estudos em Foucault sobre biopolítica é a compreensão de que a vida do homem e os seus processos biológicos passaram a integrar os mecanismos e os cálculos do poder. A vida nesse contexto biopolítico passa, então, a ser administrada pelo Estado. Desse modo, observa- se a inversão da lógica democrática em prol do povo como objetivo/ fim, para tornar-se um meio para alcançar um Estado forte.
As limitações nos pensamentos de Foucault e Arendt apontadas por Agamben assinalam a dificuldade de se abordar o tema. Ao traçar uma base teórica partindo do conceito de vida nua, com fito de estabelecer uma conexão entre os autores, o filósofo é enfático ao afirmar, que toda política ocidental sempre foi biopolítica. Amparado por essa afirmação Agamben buscou explicar em que consistia a vida nua através da distinção realizada pelos gregos, zoé e bíos.
Agamben esclarece que o vínculo de política e vida, mais precisamente sobre a questão de quem merece viver ou morrer, está amparado em uma zona íntima que não deixa se evidenciar com facilidade. O caráter biológico da vida é pautado por uma opacidade que, para se tornar aparente, necessita de uma investigação política.
Temos, em Agamben, que a conexão entre o homo sacer e o soberano se dá por uma relação de exceção, sendo uma permanente construção de uma política de exclusão inclusiva atuando sob um controle metafísico da liberdade. Assim, através dos mecanismos contemporâneos de intervenção biopolítica, que atuam em um estado de exceção permanente, a população periférica é submetida ao ostracismo da vida nua.
Nesse contexto de exceção é comum e muito natural a eliminação de uma parte da população, notadamente daqueles cuja vida pode ser comparada a do homo sacer, através de mecanismos de controle social com viés fortemente tanatopolítico. Nesse sentido, Giorgio Agamben desnuda a relação entre a biopolítica e o poder soberano que permite ao seu exercente escolher quem vai viver e morrer por intermédio da figura do homo sacer. Diante deste vasto espectro do poder estatal urge a noção de tanatopolítica, desdobramento extremo do conceito de biopolítica, considerando a faculdade do soberano de realizar tais escolhas. Em outras palavras, temos em homo sacer a demonstração de que o Estado tem competência, através da soberania, para determinar quem são seus inimigos e os modos através dos quais se dará o combate aos mesmos.
Compreendemos, por isso, que a experiência brasileira dos autos de resistência seja um exemplo contundente da aplicação de tais mecanismos. Importa, desse modo, tecer, ainda que breve, uma análise do mesmo e de que modo se associa aos conceitos agambenianos acima trabalhados.
O Auto de Resistência ou, conforme as novas nomenclaturas, “lesão corporal decorrente de oposição à intervenção policial” ou “homicídio decorrente de oposição à ação policial” é uma das principais ferramentas de manutenção do estado de exceção, direcionado a um segmento específico da população – classes e grupos sociais excluídos, os invisíveis da sociedade – que vivem na condição de homo sacer.
Cumpre ressaltar que se trata de um instituto cuja previsão legal fora adquirida durante a Ditadura Militar, um dos períodos mais sombrios da história do Brasil e fortemente marcado por medidas excepcionais, tais como, a legalização da pena de morte, da prisão perpétua e de práticas clandestinas de tortura, extermínio e ocultação de cadáver.
A Portaria “E”, nº 0030 de 06 de dezembro de 1974, desde o princípio expressa de forma convicta que a ação policial é legítima. Sendo assim, as vítimas das condutas policiais nunca têm seus casos elucidados, uma vez que não há imparcialidade no julgamento. Suas vidas são resumidas às folhas policiais, sendo qualificados como meliantes, traficantes, bandidos, delinquentes, mesmo quando não possuem qualquer anotação em suas folhas de antecedentes criminais (FAC). Ou seja, a eles é atribuída a condição de homo sacer, de mera vida nua matável.
Todavia, importa esclarecer que, apesar da previsão legal ocorrer na Ditadura, a conduta policial que leva a lavratura do Auto de Resistência é uma prática corrente adotada no Brasil desde os tempos da Colônia, logo, é algo histórico-cultural e extremamente arraigado em nossa sociedade. O Brasil desde sempre dialogou com o estado de exceção, estando ou não em um Estado Democrático de Direito.
Um dos grandes desafios do Estado brasileiro, após a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, tem sido adotar uma política de segurança pública que combata a criminalidade e garanta a paz social e que, ao mesmo tempo, respeite integralmente os direitos e garantias fundamentais dispostos na Constituição Federal e nos Tratados do quais o Brasil é signatário.
Parece-nos que a superação desse desafio está distante da nossa realidade, tendo em vista que com certa regularidade notícias acerca da violência estatal chegam às páginas dos jornais. Resta evidente que a frequência com que elas são perpetradas é ainda maior do que a estampada nos noticiários.
Conclui-se, portanto, que apesar de ter tido recentemente sua nomenclatura modificada, o que sugeriria uma maior transparência por parte do Estado, o instituto segue sendo largamente utilizado para legitimar homicídios cometidos pela polícia em situações outras que não aquelas que configurariam o chamado “auto de resistência”. Isso é, o utilizam para encobrir o uso arbitrário da força letal do Estado e, assim, evitar a responsabilização pelas mortes.
Além disso, há outros índices que acompanham os “autos de resistência”, tão graves quanto, que precisam ser amplamente discutidos, pois ajudam a perpetrar a violência, tais como os homicídios cometidos contra policiais militares, que decorrem da fracassada política de segurança pública.
Sendo assim, não há como abordar o tema de segurança pública sem discutir as recorrentes violações de direitos humanos e o aumento significativo no número de mortes. Imprescindível, portanto, repensar esse cenário, e buscar respostas consistentes para perguntas como: de qual modo podemos mudar esse cenário? Quais medidas podem ser empregadas pelo Estado para que os direitos e garantias fundamentais sejam respeitados? Como consolidar a democracia em todos os territórios (favelas e periferias) e não permitir que o Estado Democrático de Direito dialogue com o estado de exceção? Quais procedimentos e práticas devem ser adotados pelas polícias no combate à criminalidade? A desmilitarização da polícia pode ser uma das soluções? Como abolir, não apenas o termo “autos de resistência”, mas a conduta que leva a lavratura do mesmo? De que modo é possível mudar a ideologia de extermínio “bandido bom, é bandido morto”, arraigada na sociedade?
*Anna Carolina Cunha Pinto, colunista da Revista Prosa, Verso e Arte, escreve sobre suas percepções do mundo associando-as com conteúdos de Filosofia e Sociologia. Formada em Direito pela Universidade Cândido Mendes, mestranda em Sociologia e Direito pela UFF e apaixonada por filosofia.
Leia outras colunas da autora:
Anna Carolina Cunha Pinto (colunista)