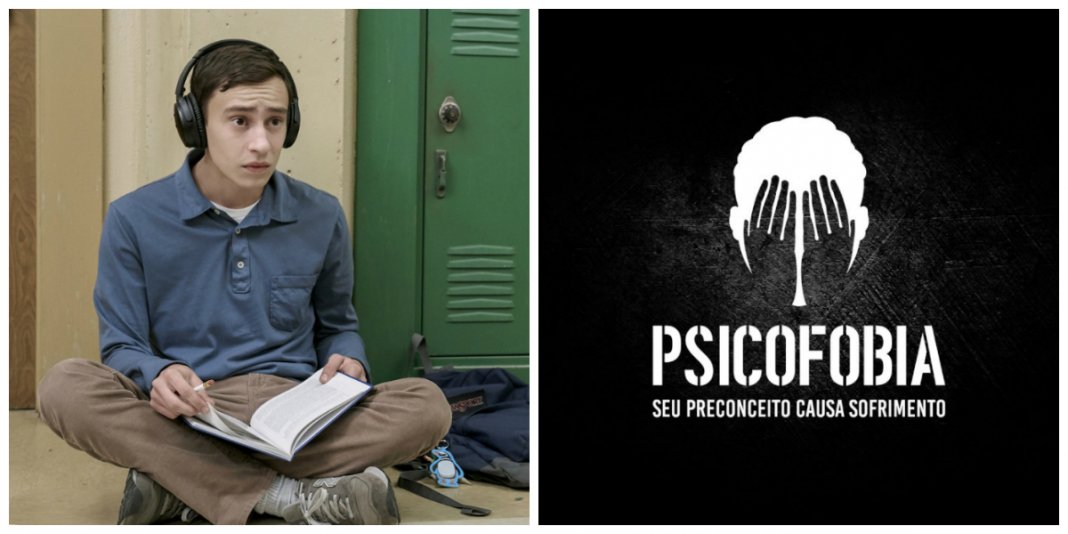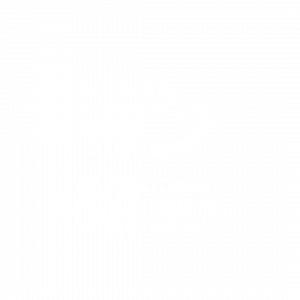Saúde mental e emocional é, felizmente, um assunto em voga. Não à toa, a provedora global de filmes e séries Netflix produziu e lançou, apenas neste ano, três séries e um longa que tratam do tema: o polêmico “13 Reasons Why”, que aborda o tabu do suicídio adolescente, “To the Bone”, filme sobre distúrbios alimentares, como anorexia e bulimia, e “Atypical”, uma série de oito episódios curtos sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), ou a denominação mais comum: autismo.
“Os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) referem-se a um grupo de transtornos caracterizados por um espectro compartilhado de prejuízos qualitativos na interação social, associados a comportamentos repetitivos e interesses restritos pronunciados (Brentani et al, 2013). Os TEAs apresentam uma ampla gama de severidade e prejuízos, sendo frequentemente a causa de deficiência grave, representando um grande problema de saúde pública. Há uma grande heterogeneidade na apresentação fenotípica do TEA, tanto com relação à configuração e severidade dos sintomas comportamentais (Geschwind, 2009).”
Particularmente, depois de ter assistido todos estes lançamentos, tive uma predileção pela série mencionada no título. “Atypical” se enquadra nos gêneros drama e comédia, repleta de alguns toques de humor bastante sarcásticos no que diz respeito aos preconceitos vigentes contra indivíduos que não se enquadram no que seria esperado de um padrão de normalidade, muitas vezes inalcançável: é, assim, um verdadeiro levante contra a psicofobia, sem precisar explicitar esta bandeira.
O roteiro trata da vida de Sam, um jovem de 18 anos, diagnosticado com TEA. Trabalha seu transtorno em sessões semanais de psicoterapia, e, nelas, revela seu interesse em encontrar uma namorada, julgando ser um sonho impossível. A terapeuta, contudo, discorda e passa a orientá-lo sobre interações sociais românticas, como já o fazia em outros âmbitos de sua vida, o adaptando a um convívio social frutífero.
O seriado, partindo da perspectiva de Sam, demonstra o dia a dia de um portador de TEA em um grau “leve”, sem se perder em caricaturas e desviar muito da vivência real. Sam tem uma vida funcional, estuda e tem seus próprios interesses, mas também lida com algumas limitações: ruídos altos, multidões e determinadas situações externas são gatilhos que o levam a graus de ansiedade insuportáveis. Sua família teve de se adaptar conforme o jovem crescia, e a maneira como encaram essa instituição familiar é também trabalhada ao longo dos oito episódios.
Muito sobre o espectro autista é esclarecido na série, como a impossibilidade de “cura” do transtorno, mas sua possibilidade real de adaptabilidade. Assim, ao desenvolver o personagem, o roteiro demonstra que Sam é dotado tanto de uma ingenuidade que não coaduna com sua idade, uma ausência de traquejo social e “malícia”, como também de uma sinceridade crua que muitas vezes o prejudica, mas também destaca suas qualidades: inteligência muito acima da média, excelente capacidade de concentração e senso de empatia. Em um dos momentos tocantes da série, o protagonista reflete que muitas pessoas antecipadamente pensam que um portador de TEA não seria capaz de sentir empatia por outras pessoas por supostamente “viver em um mundo isolado”, assim como seria incapaz de entender quando é motivo de chacota ou antagonizado. Porém, o personagem sempre demonstra a percepção do bullying que sofre, mesmo que não compreenda porque as pessoas se sentiriam impelidas a atacá-lo. Do mesmo modo, quando vê amigos e pessoas com as quais têm afinidade em sofrimento, se percebe empático as suas dores. Talvez até mais do que indivíduos que não tenham sofrido tanto preconceito.
Afinal, esses motivos que levam ao bullying que o personagem sofre realmente não são válidos. Em algum grau, ninguém se encaixa perfeitamente em um modelo pré-disposto de normalidade. E essa mesma “normalidade” é questionada ao trabalhar os personagens de sua família: sua irmã tem de lidar com problemas de agressividade e desconfiança, por se sentir preterida, já que a mãe, em uma superproteção bem-intencionada, fazia tudo em sua casa girar em volta de Sam. O pai, por sua vez, é omisso, nega a doença do filho, sendo incapaz de contar fora do lar que tem um filho autista. Sofre uma dificuldade imensa em aceitar o próprio filho e por isso muitas vezes renuncia ao seu papel como pai, se ausentando.
É interessante que a série não se reduza a demonstrar apenas o transtorno do TEA, mas sim todas as dificuldades emocionais e mentais que pessoas supostamente “normais” também enfrentam, e, portanto, destoam desse padrão inexistente, construído por normas psicofóbicas. Ansiedade, pânico, agressividade em excesso, negação, e até certa percepção “delirante” da realidade são trabalhadas durante o desenvolvimento dos personagens que interagem com Sam.
Por conta dessa retratação realista, que não tende ao caricatural nem ao exageradamente dramático, acredito que a série tenha um valor de destaque: até mesmo por trabalhar, sem precisar usar de demagogia, doutrinação psicanalítica ou jurídica, todas as nuances psicológicas de diversos personagens, bem como suas idiossincrasias e hipocrisias, não apenas de um portador de TEA. É humano “destoar”.
Embora a série não se aprofunde no quesito político-social da psicofobia, escolhi introduzir na coluna tanto sua conceituação, quanto uma reflexão acerca de uma pequena parte das inúmeras considerações de Foucault sobre biopoder, e como os primórdios da medicina voltada para a ordem psiquiátrica obedeciam um perverso jogo político de interesses que separavam os indivíduos, marginalizando os que destoassem do padrão interessado aos maiores detentores de poder.
Acerca do termo:
“Psicofobia é um neologismo criado pela Associação Brasileira de Psiquiatria que teve seu presidente Antonio Geraldo da Silva como criador desenvolvedor e propagador. A ideia de dar um nome ao estigma, prejuízo e preconceito que sofrem os doentes mentais foi aceita por legisladores, como o Senador Paulo Davim, pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Mundial de Psiquiatria, e por várias associações como a Associação Americana de Psiquiatria, a Associação Espanhola de Psiquiatria, a Associação Portuguesa de Psiquiatria e outras mais.”
Em relação a psicofobia e biopoder, Foucault trabalha a medicina como ligada a essa estratégia de controle e repressão social: o capitalismo trouxe consigo uma mudança da medicina não para uma medicina privada, ligada aos meios de produção, mas sim para uma suposta medicina social, que na verdade socializou o corpo: ele teria valor como força produtiva, como força de trabalho. A medicina seria, nesse contexto, uma estratégia biopolítica, isto é, uma maneira de controlar os indivíduos (não importando suas subjetividades), conforme os interesses do Estado. Nela, se encaixaria também a opressão do biopoder exercido pela psiquiatria, que, de início, marginalizava os que fossem considerados não apenas enfermos em termos mentais, mas incapazes de se tornarem produtivos para uma sociedade de consumo:
Um poder de tipo soberania é substituído por um poder que poderíamos dizer de disciplina, e cujo efeito não é em absoluto consagrar o poder de alguém, concentrar o poder num indivíduo visível e nomeado, mas produzir efeito apenas em seu alvo, no corpo e na pessoa do rei descoroado, que deve ser tornado “dócil e submisso” por esse novo poder (FOUCAULT, Michel. O Poder Psiquiátrico, 2006, p. 28).
Assim sendo, uma das maneiras de controle social exercido seria o estabelecimento de um padrão de comportamento específico que se adequasse plenamente a regra do maior lucro possível, que buscaria como respaldo social uma “veridicção” (jogo de verdades estabelecidas) para destacar este padrão de comportamento esperado pelo Estado. A medicina, de início, não estaria, portanto, ligada à saúde pública e ao interesse do povo, mas ao interesse do Estado capitalista. E, desta forma, com o autoritarismo exercido, separando os sujeitos em “loucos” e sãos, párias e cidadãos comuns, o regime do medo ao diferente seria alimentado, verticalmente. E com isso, dentre outros inúmeros preconceitos, também seria nutrida a psicofobia.
Nos tempos atuais, todavia, apesar dos vestígios de uma construção social preconceituosa arraigada nesse jogo de poderes verticalizados do Estado ao indivíduo, podemos ver inúmeros avanços. A psiquiatria, a psicanálise e a medicina em geral trabalham com o corpo não como um bem do Estado propriamente, mas como parte fundamental dos direitos da personalidade de um ser humano, e, portanto, de natureza própria decisória deste. Em alguns âmbitos, não pode decidir no lugar da pessoa.
A saúde pública não se confunde com as garantias fundamentais de direitos individuais, em geral, e o respeito aos direitos humanos (envolvendo em seu rol tais garantias de igualdade e respeito à dignidade da pessoa humana) são imprescindíveis em qualquer Estado democrático de Direito. Ainda há, porém, um longo caminho a ser trilhado entre o que é protegido pelas normas constitucionais, e o que é repetido em termos de senso comum, pelo povo que é regido por tal dispositivo. Violações simplórias, porém cruéis, como as sentidas por Sam são hipocritamente propagadas dia a dia, enquanto assuntos como doenças mentais e saúde emocional forem tabu ou menosprezados.
Por isso “Atypical” é, sem dúvidas, uma série fundamental. Precisamos deixar para trás o fantasma da psicofobia e assumir o velho clichê: de perto, ninguém é normal.
Referências bibliográficas:
1. Diagnóstico do autismo. Disponível no link. (acesso em 15/11/2017)
2. Descobrindo a Psicofobia. Disponível no link. (acesso em 15/11/2017)
3. O Nascimento da Medicina Social. In: Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1999, p. 46.
* Clarice Lippmann, colunista da Revista Prosa, Verso e Arte. Formada em Direito pela PUC-Rio e estudante entusiasta de Filosofia.
Clique AQUI e leia outras colunas da autora.